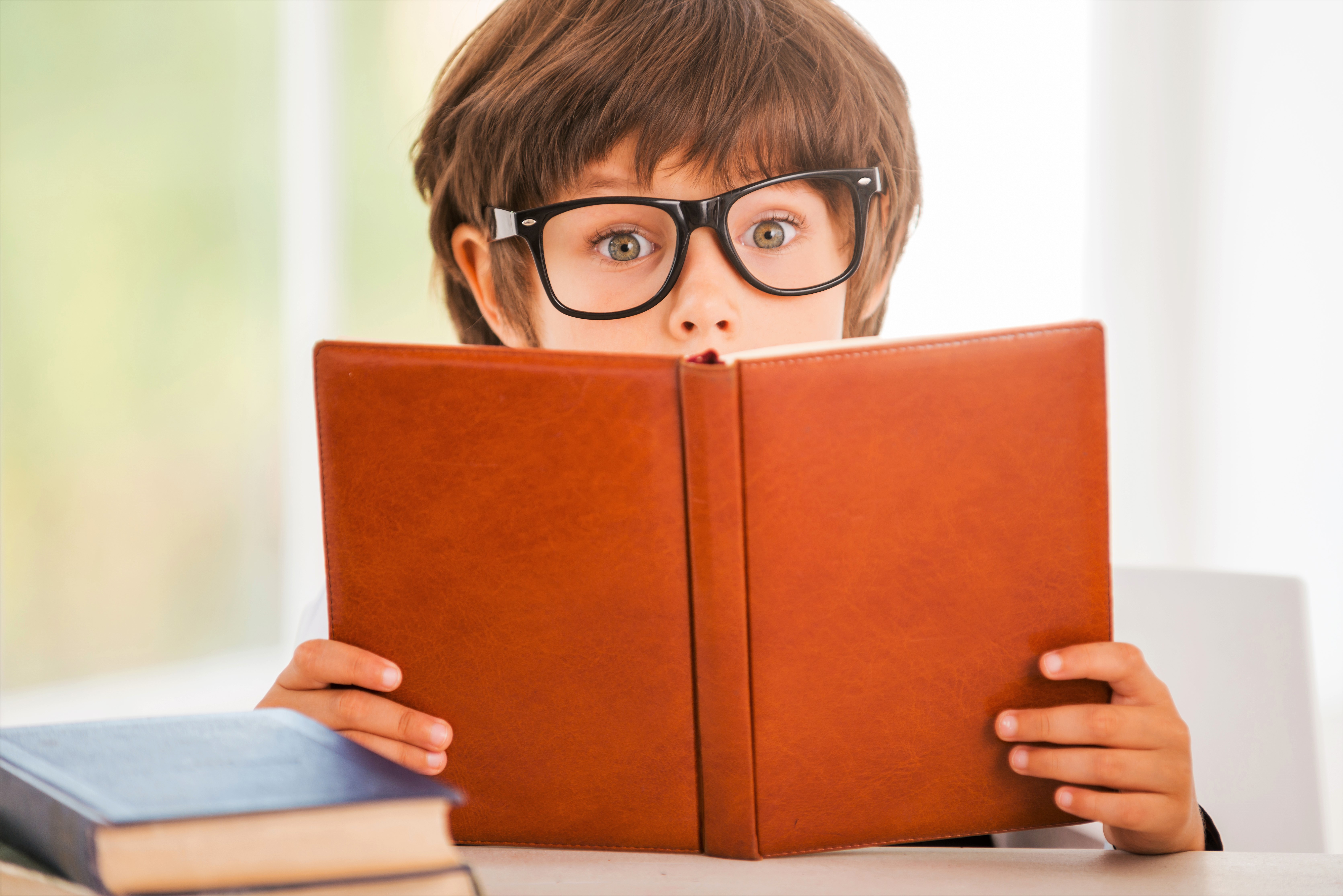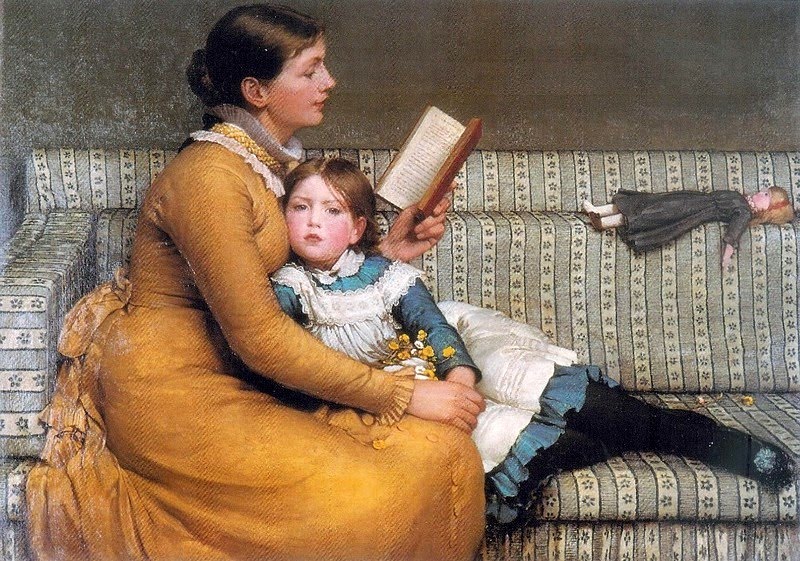Tempo de leitura: 25 minutos
Contos de fadas e histórias de fantasia transportam o leitor para mundos novos de encantamento, surpresas e perigos. Essas histórias desafiam o leitor a compreender esses outros mundos, a orientar-se neles, a imaginar-se no lugar dos heróis e heroínas que os povoam. A segurança e a garantia dessas aventuras imaginativas residem no fato de que os riscos podem ser assumidos sem que se tenha de suportar todas as conseqüências de um fracasso; a alegria está em descobrir como essas perigosas aventuras podem culminar em finais felizes e satisfatórios. Entretanto, a concepção do ser também se transforma. As imagens e metáforas presentes nessas histórias permanecem no leitor mesmo depois que ele retorna ao mundo “real”.
Depois de ler “A Rainha de Gelo”, de Hans Christian Andersen, ou “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa”, de C. S. Lewis, a imaginação moral da criança sai estimulada e aguçada. Essas histórias fornecem imagens poderosas do bem e do mal e mostram à criança como amar, por meio de exemplos de personagens que ela passa a amar e a admirar. Isso estimulará sua imaginação para que traduza essas experiências e imagens em termos de elementos constitutivos da auto-identidade e de metáforas que ela utilizará para interpretar seu próprio mundo. A criança crescerá cada vez mais capaz de orientar-se, com intenção moral, naquele mundo.
Uma imaginação moral atenta confere vida às virtudes, que passam a ser repletas de significado pessoal e existencial, bem como social. As virtudes não precisam ser aqueles dados dissecados e sem vida presentes em teorias morais ou em versões éticas de regras de higiene nas aulas de ciências da saúde; elas podem assumir uma vida que atraia e desperte o desejo da criança de possuí-las para si. Precisamos urgentemente adotar formas de uma pedagogia moral fiéis à vocação ancestral e verdadeira do professor – transformar pessoas em seres humanos maduros e completos, capazes de encarar a verdade sobre si mesmos e sobre os outros, e desejosos de corrigir suas faltas e colaborar com a bondade e a verdade onde quer que sejam encontradas. Precisamos aproveitar melhor o poder das histórias de humanizar os jovens, sejam elas os contos dos Hassidim, tão amados por Buber, ou as histórias que conhecemos por contos de fadas.
Ensinar valores?
“Valores” é a palavra de ordem no cenário educacional contemporâneo. A palavra traz todo o peso de nossas preocupações com a decadência da moralidade. Recomenda-se ensinar valores, sejam valores familiares, democráticos, ou religiosos, como a solução para nossa confusão moral. Mas o consenso sobre a necessidade de valores morais mais sólidos, é claro, dissolve-se imediatamente, e sua defesa sofre um revés, quando se enfrenta a incontornável questão de quais valores devem ser ensinados. Não acredito que o debate atual sobre os valores vá esclarecer aquilo em que acreditamos ou que tipo de moralidade deveríamos ensinar às nossas crianças. Valores por certo não são a resposta ao relativismo moral. Muito pelo contrário, o discurso sobre os valores é perfeitamente compatível com o relativismo moral.
Em seu livro The Demoralization of Society: From Victorian Virtues to Modern Values [“A Desmoralização da Sociedade: das Virtudes Vitorianas aos Valores Modernos”, sem tradução para o português], Gertrude Himmelfarb expõe o que alguns estudiosos da cultura Ocidental sempre souberam: que “valores” é um termo relativamente novo no nosso vocabulário moral. A história do termo não recua muito além do final do século dezenove. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche parece ter sido o inventor do uso moderno que fazemos do termo, como uma categoria da moralidade. Nietzsche opunha-se ao que chamava de Cristianismo “efeminado” e defendia o “Übermensch”, ou ser humano superior, com a coragem de desafiar a moralidade religiosa convencional e inventar seus próprios valores. Em seu famoso ensaio “Além do Bem e do Mal”, Nietzsche empregou o termo dessa nova maneira – não como um verbo com o significado de valorizar ou estimar alguma coisa, nem como um substantivo singular que significasse a medida de alguma coisa (o valor econômico do dinheiro, do trabalho ou da propriedade), mas no plural, conotando as crenças morais e atitudes de uma sociedade ou do indivíduo. Por meio do giro lingüístico “transvaloração dos valores”, Nietzsche resumiu sua tese sobre a “morte de Deus” e o nascimento do seu nobre “novo homem”. Nietzsche descreveu esse novo tipo de ser humano como “alguém que determina [seus próprios] valores”, que julga o bem e o mal com base no que é bom ou danoso para ele mesmo. Deste modo, os valores da moralidade convencional seriam falsos valores em via de ser substituídos pelos valores criados pelo indivíduo verdadeiramente autônomo e livre.
O novo uso do termo, inaugurado por Nietzsche, não obteve aceitação imediata. Mesmo a última edição de 1928 do Dicionário Oxford da Língua Inglesa não trazia o termo “valores” no plural, com o significado de qualidades morais. Mais recentemente, a edição de 1992 do Moderno Dicionário Oxford da Língua Inglesa define valores não apenas no sentido moderno de qualidades morais, mas atribui-lhe ainda um aspecto subjetivista. Os editores do dicionário trazem a seguinte definição: O termo valores refere-se aos “critérios de um indivíduo, ao juízo sobre o que é valioso ou importante na vida” (grifo acrescentado).
Uma outra maneira de ver a questão consiste em considerar que os valores pertencem àquelas coisas a que chamamos de estilos de vida individuais, e, na linguagem corrente, um estilo de vida é algo que escolhemos e trocamos de acordo com nossas preferências e gostos pessoais, assim como fazemos quando decidimos reformar nosso guarda-roupa. Himmelfarb tem razão quando afirma: “Os valores trazem consigo o pressuposto de que todas as idéias morais são subjetivas e relativas, meros costumes ou convenções, com uma finalidade puramente instrumental e utilitária, e que são características de alguns indivíduos e sociedades específicas.”[1]
Em nossa sociedade de consumo, valores morais podem mesmo assumir características de commodities materiais. É fácil pensar que liberdade pessoal significa poder escolher nossos valores em um mercado desregulamentado e cada vez mais variado de moralidades e estilos de vida. Escolher valores acaba não sendo muito diferente de fazer compras de supermercado ou de escolher materiais de construção em uma dessas lojas de departamentos. Como sociedade, estamos aprendendo a considerar a moralidade e os valores como matéria de gosto e satisfação pessoal. Para algumas pessoas, a monogamia heterossexual do casamento é um valor, enquanto para outras é um relacionamento romântico entre duas ou mais pessoas, homens ou mulheres, ou ambos. Algumas pessoas dizem que o aborto é errado e que não o aprovam; mas essas mesmas pessoas também afirmam que tudo bem se alguém quiser praticar o aborto. Isso só é possível se os valores forem uma criação do eu, e não normas morais universalmente válidas. Basta investigar um pouco mais a fundo a concepção moral de muitos americanos para nos depararmos com a premissa, bastante ingênua mas não raro defendida com unhas e dentes, de que o indivíduo é o arquiteto de sua própria moralidade, que a constrói empilhando “blocos de valor” escolhidos livremente. Deparamo-nos de repente com o fantasma de Friedrich Nietzsche.
Valores não são virtudes
Há diferenças reais e importantes entre o que hoje chamamos de valores e o que tradicionalmente se entendia por virtudes. Permita-me colocar a questão da seguinte maneira. Um valor é como um anel de fumaça. Sua forma é inicialmente determinada por quem fuma, mas, uma vez liberada, não é possível prever a forma que irá assumir. Mas uma coisa é certa: tão logo um anel de fumaça deixa os lábios do fumante, começa imediatamente a desfazer-se. Volição e volatilidade são características tanto dos anéis de fumaça quanto dos valores. Por contraste, uma virtude pode ser comparada a uma pedra cuja natureza é a permanência. Podemos lançar uma pedra em um lago, onde ela permanecerá depositada no fundo junto de outras pedras. Se, mais tarde, desejarmos resgatar aquela pedra do fundo do lado, podemos ter certeza de que a forma da pedra não terá se alterado, e que ainda conseguiremos distingui-la das demais.
As virtudes definem o caráter de uma pessoa, seu relacionamento mais permanente com o mundo, e qual será o seu propósito. Por outro lado, os valores, conforme o uso corrente, são os instrumentos ou componentes da vida moral que o eu escolhe para si, podendo descartá-los sem colocar em risco sua identidade. Deste modo, os valores dependem e sujeitam-se à autonomia do eu – esta, por sua vez, entendida como o valor mais alto do eu e sua qualidade essencial. Porém, quando dizemos que Pedro é um homem virtuoso e corajoso, estamos dizendo que a virtude da coragem pertence à essência mesma de quem e do que Pedro é. Ser corajoso não se sujeita a um desejo de sê-lo ou a um desejo de não sê-lo. As virtudes e os vícios definem a vontade mesma e também descrevem propriamente o sujeito que as possui. A cor laranja é tanto uma qualidade da laranja quanto uma descrição inevitável da laranja. Se nos deparamos com uma coisa, entretanto, que se parece com uma laranja, mas é marrom, pode tanto ser uma laranja podre quanto não ser uma laranja absolutamente. Do mesmo modo, não faz sentido, moralmente falando, afirmar que um homem corajoso decidiu ser um covarde. Não podemos afirmar, baseados em um comportamento posterior, que observamos Pedro decidido a tornar-se um covarde. Se as ações posteriores de Pedro forem de fato covardes e não corajosas, seremos obrigados a reformular a descrição original que tínhamos feito dele.
O que estou afirmando, portanto, é que aquilo que parece auto-evidente para tantos de nossos contemporâneos acerca da centralidade dos valores para a vida moral pode não ser verdade, nem consistente com a natureza humana, nem levar em conta adequadamente uma grande porção da realidade humana sobre a qual temos, pessoalmente, muito pouco ou nenhum controle. Pelo contrário, as fontes mais seguras da tradição ocidental sustentam que a moralidade é muito mais do que a soma dos valores que um ser essencialmente autônomo escolhe para si – na verdade, é algo qualitativamente diferente disso. Fontes clássicas, judaicas e cristãs como Platão, Aristóteles, Cícero ou Agostinho, João Crisóstomo, Maimônides, Tomás de Aquino e João Calvino insistem no ponto de que a moralidade não é plural nem subjetiva. Pelo contrário, afirmam que a moralidade humana é substancial, universal e tem caráter relacional, fundada e enraizada no Bem permanente, ou em uma lei moral mais alta, ou no ser de Deus. Desde esse ponto de vista, valores e decisões cujas razões de legitimidade não vão além da vontade individual são tão efêmeras como a espuma que flutua no topo das ondas. Não podem servir de guias morais confiáveis da vida moral.
Os maiores professores de nossa cultura histórica enfatizam que a moralidade é algo mais profundo e substancial do que a espuma efêmera. Onde há ondas e espuma, insistem, deve logicamente haver um corpo mais profundo de água. Essas fontes descrevem um mar de moralidade substancial por baixo das expressões efêmeras e em constante mutação das emoções, do gosto e da satisfação que se obtém nas relações ordinárias com os seres humanos. Descrevem o caráter como aquela gravidade que nos mantém à tona, e as virtudes como as velas que nos impulsionam e os instrumentos que nos permitem manter o curso mesmo quando o navio é sacudido pelas ondas e pelo mar agitado.
Os navegadores precisam saber utilizar o lastro e lançar a âncora para evitar que o navio naufrague e eles afundem. Da mesma forma, as virtudes nos possibilitam responder de forma correta àqueles momentos da vida que são os equivalentes morais de tais condições em alto mar. Entretanto, a capacidade de discernir esses momentos e responder adequadamente envolve mais do que técnicas formais de tomada de decisão; da mesma maneira que uma navegação bem-sucedida depende de mais do que conhecer as técnicas da boa navegação. Assim como esta última requer um conhecimento e uma familiaridade com o mar que não podem ser aprendidos em livros, mas apenas na lida com o mar, do mesmo modo a vida moral requer que sejamos também virtuosos. As virtudes não são apenas os equivalentes morais das técnicas da boa navegação; pelo contrário, são o caminho e o fim mesmo do bem e da felicidade. Contudo, se partimos do pressuposto – como o fazem tantos de nossos livros-texto – de que problemas e dilemas constituem a totalidade da matéria da ética, e que as decisões que tomamos constituem o objetivo da moralidade, então tendemos a interpretar até mesmo as virtudes da mesma maneira superficial e utilitária com que já tratamos os valores. Mas, se prestarmos atenção às fontes ancestrais, teremos de admitir que as virtudes relacionam-se com uma realidade moral muito mais densa e profunda. Veremos então as virtudes como as qualidades de caráter de que precisamos a fim de nos orientarmos no mar revolto e misterioso da moralidade, no qual fomos todos colocados. Para essa jornada, um bolso cheio de valores não é nem lastro suficiente, nem um substituto para as velas, o compasso e o sextante.
Trocando os contos de fadas por histórias “realistas” e “práticas”
Anos atrás, em uma série de ensaios intitulada, simplesmente, “A Educação, ou o Erro em Relação à Criança,”[2] [Education, or the Mistake About the Child], G. K Chesterton envolveu-se em um debate que não era então menos importante do que é hoje. O assunto do debate é o que deve ser levado em conta em uma educação moral. Como conclusão, pretendo repassar o que Chesterton tinha a dizer, voltando então ao ponto de partida – à afirmação que fiz no início, de que histórias, especialmente contos de fadas, são fontes inestimáveis para a educação moral das crianças.
Educadores modernos não demonstram simpatia para com os contos de fadas tradicionais e similares. Proscrevem-nos como demasiado violentos ou ultrapassados, e assim por diante. Preferem as histórias mais “práticas” e “realistas” – histórias sobre a vida que as crianças levam hoje, possibilitando abordar temas úteis, princípios e valores. O que alguns educadores não conseguem encontrar, eles criam. Da pena dos autores de livros-texto sobre valores, pululam histórias cujo único propósito é esclarecer os assim chamados problemas morais, ou “delinear” razões para tomar decisões morais inteligentes. Essas histórias são do tipo descartável, feitas para serem jogadas no lixo como embalagens vazias uma vez que seu conteúdo “importante” tiver sido extraído. Ensinar habilidades de argumentação, e não virtudes, é considerado o meio para uma educação moral; o objetivo é a explicação dos valores, e não a formação do caráter.
Para esses educadores, a educação moral se realiza do mesmo modo como se ensina as crianças a ler ou a aritmética. Mas isso não é sequer algo acertado, pois, no caso da educação moral, espera-se que as crianças possam descobrir e esclarecer para si mesmas seus próprios valores e postura moral no mundo. Porém, não permitimos às crianças inventar sua própria matemática: ensinamos a tabuada de multiplicação; nem as incentivamos a inventar alfabetos pessoais: ensinamos a ler. O que poderíamos esperar de uma educação que de fato permitisse às crianças inventar seu próprio alfabeto e sua própria matemática? Sem dúvida, o resultado seria confusão ou o caos. Deveríamos então ficar surpresos diante dos resultados dos esforços mais recentes de ajudar as crianças a esclarecer seus próprios valores – na realidade, inventar suas próprias moralidades pessoais?
“Eis a educação perpétua: ter suficiente certeza de que algo é verdadeiro a ponto de chegar à ousadia de contá-lo a uma criança”
Em seu estilo inimitável, G. K. Chesterton expôs a deficiência e o erro dessa abordagem moderna da educação moral. Ele identificou a dogmatização dessa retórica antidogmática. Em nossos dias, essa abordagem moderna é justificada por um compromisso prévio com certas teorias psicológicas que elevam a autonomia pessoal e a auto-realização acima do que é pejorativamente chamado de autoridade externa. O professor não deveria introduzir valores em sala de aula, mas, em vez disso, trabalhar para “extrair” das crianças suas próprias crenças morais e, por meio de um processo de esclarecimento, ajudá-las a formular melhor seus próprio valores. Eis como Chesterton caracterizou esse histórico debate:
“Mas o importante aqui é que não há como livrar-se da autoridade na educação… O educador que extrai é tão arbitrário e coercitivo quanto o instrutor que incute, pois aquele extrai o que melhor lhe parece, decide o que deve e o que não deve ser desenvolvido na criança. Suponho que não extraia a descuidada faculdade da falsificação. Não extrai – ao menos até agora – um tímido talento para a tortura. O único resultado de toda essa pomposa e precisa distinção entre o educador e o instrutor é que o instrutor empurra para onde quiser e o educador puxa de onde quiser.” [3]
Em resposta aos céticos, Chesterton afirmou o que considerava óbvio. Admitamos o fato ou não, a educação tende a doutrinar e a coagir. O rabino Mendal era especialmente grato a seu primeiro professor, que nele inculcou fielmente, em sua juventude, os rudimentos necessários da cultura e transmitiu-lhe os elementos essenciais de uma vida religiosa e moral. O Dicionário Oxford da Língua Inglesa define doutrinação como imbuir de conhecimento ou transmitir um conhecimento de algo, tal como um dogma. Chesterton afirmava que uma educação moral autêntica não seria possível a menos que algo assim ocorresse. Ele falava sobre a responsabilidade de afirmar “a verdade de nossa tradição humana e transmiti-la com voz firme e cheia de autoridade. Eis a educação perpétua: ter suficiente certeza de que algo é verdadeiro a ponto de chegar à ousadia de contá-lo a uma criança.”[4]
A verdadeira corrupção da educação moral reside na moralização autoritária, de um lado, e na indulgência de argumentos falsos e opiniões indisciplinadas, de outro. Contudo, uma educação moral válida e eficaz tenderá a ser coerciva às vezes e até mesmo implicar uma certa violência, independentemente de serem opiniões “extraídas” do aluno ou dogmas “introduzidos” nele.
A violência intelectual feita à criatura empurrada é exatamente a mesma feita àquela puxada. Portanto, devemos agora aceitar a responsabilidade desta violência intelectual. A educação é violenta porque é criativa. É criativa porque é humana. É tão implacável quanto tocar violino; tão dogmática quanto fazer uma pintura; tão brutal quanto construir uma casa. Resumindo, é o que toda ação humana é, uma interferência na vida e no crescimento.[5]
Mas Chesterton não era um defensor do instrumento cego e pesado; nem eu sou. Eis uma das razões por que os contos de fadas o agradavam tanto. Contos de fadas não podem ser considerados hipóteses científicas ou teorias, mas ecoam as qualidades mais profundas da humanidade, da liberdade e da imaginação moral. Ao mesmo tempo, negam o materialismo e o determinismo psicológico que se escondem por trás de muito do discurso moderno sobre a emancipação humana, e fazem pouco da suposta razão e racionalidade que pretendem tomar o lugar da fé e da confiança na verdade. Novamente, mostram-nos uma forma de ver o mundo — um mundo no qual tudo o que é não precisava necessariamente ser, e a lei moral positiva conota liberdade e não necessidade. O filósofo do país das fadas, escreveu Chesterton, “alegra-se pelo verde da folha precisamente porque ela poderia ter sido escarlate…. Ele sente-se feliz porque a neve é branca exatamente pelo razoável motivo de que ela poderia ter sido preta. Toda cor tem em si mesma uma nítida qualidade, como se fosse escolhida; o vermelho de um jardim de rosas não é só decidido, mas dramático, como um súbito derramamento de sangue. O filósofo sente que alguma coisa foi FEITA”[6], que há uma intenção em tudo, como se alguém tivesse decidido que as coisas fossem desta maneira e não de outra, e essas coisas se repetem a fim de se aperfeiçoarem, ou simplesmente porque a repetição é agradável. O filósofo do país das fadas respeita o mistério mais profundo da fonte transcendente da liberdade.
Em segundo lugar, contos de fadas nos mostram que existe uma diferença entre o que é logicamente possível e o que é moralmente adequado, entre o que é racionalmente factível e o que é moralmente permissível. Nos contos de fadas, o caráter da lei positiva não pertence nem à necessidade natural nem ao determinismo racional. Pelo contrário, a lei positiva é um sinal eloquente de uma liberdade primitiva, insondável, e de uma realidade e uma vontade sobrenaturais. A lei positiva, a lei mais positiva, pode ser obedecida ou violada, e em um caso como no outro pela mesma razão – porque a criatura é ao mesmo tempo moldada por essa liberdade primitiva e também partícipe dela. Os heróis dos contos de fadas são chamados a ser livres e responsáveis, portanto virtuosos e obedientes à lei moral.
O conto de fadas e as modernas histórias de fantasia projetam outros mundos fantásticos; mas tratam também, de forma atenta, das “leis” morais reais do caráter e da virtude. Essas leis não devem ser enfiadas goela abaixo das crianças (nem de ninguém). Mais acertadamente, são normas de comportamento obtidas dos padrões de relacionamento entre agente, ato, o outro e o mundo. O conhecimento racional é capaz de apreender essas normas. Porém, tornam-se hábitos somente quando são vividas, ou, como no caso dos contos de fadas, experienciadas vicariamente e imaginativamente por meio do entrelaçamento artístico entre personagem e enredo na história. Por isso, embora os contos de fadas não sejam substitutos da experiência da vida, têm a extraordinária capacidade de moldar nossa constituição moral sem padecer das deficiências de um ensino dogmático rígido ou de uma educação focada no esclarecimento dos valores.
Por meio da representação de mundos maravilhosos e assustadores nos quais bestas horrendas transformam-se em príncipes, pessoas más em pedras e pessoas de bem recuperam sua forma humana, os contos de fadas nos recordam verdades morais cuja normatividade e permanência não podem ser colocadas em questão. O amor dado livremente é melhor do que a obediência obtida pela coerção. A coragem que resgata o inocente é nobre, enquanto a covardia que engana o próximo a fim de obter vantagem pessoal ou a auto-preservação é digna apenas de desdém. Os contos de fadas afirmam sem rodeios que a virtude e o vício se opõem, não havendo entre eles apenas uma diferença de grau. Eles nos mostram que as virtudes são a substância do caráter e completam nosso mundo da mesma maneira que o bem naturalmente preenche todas as coisas.
Tenho consciência de que a visão que acabei de expor desafia o que os defensores da modernidade tardia ou pós-modernidade afirmam – que não existe uma condição humana comum ou uma literatura perene que expresse a experiência dessa condição. Não tenho esperança de persuadir a mudar de idéia aquele que se entrincheirou nessas posições. Tudo que posso fazer é recorrer àquele certo “algo” da existência humana que a imaginação humana apreende e compreende moralmente por meio dos contos de fadas. Falo de coisas como: a alegria com o nascimento do primeiro filho e a dor atroz da doença e da deformidade, o medo infantil de se perder somado ao desejo de furtar-se à autoridade dos pais, o amor que une os irmãos e a rivalidade que os afasta, a nomeação que confere identidade e a nomeação que confunde a identidade, as maldições de temidos malfeitores e as bênçãos de queridos benfeitores, a agonia do amor não retribuído e a alegria do amor correspondido.
Eu poderia continuar. Mas os céticos e os críticos não se dariam por satisfeitos. Os céticos afirmam que não há nada de comum em tais coisas, apenas vidas individuais e condições particulares nas quais essas vidas florescem ou decaem. Não estou convencido disso. Nada do que essas pessoas dizem está comprovado, e quanto mais envelheço e me torno mais viajado, e minha memória se enche de tantas vidas diferentes e rostos humanos, a sabedoria dos contos de fadas, a sabedoria de uma condição humana comum por baixo e permeando toda a diversidade e diferença, parece-me muito mais razoável do que o relativismo moral e cultural. Um último ponto no qual concordo com Chesterton. Os contos de fadas nos levam a acreditar em algo que, se não estivesse envolto por tanto mistério, seria afirmado simplesmente pelo bom senso: [sempre considerei a vida antes de tudo como uma história] e, se há uma história, há um contador de histórias.
Segunda parte do artigo de Vigen Guroian, traduzido para o português. Original em: http://www.theimaginativeconservative.org/2013/05/awakening-the-moral-imagination.html
Notas:
- Gertrude Himmelfarb, The Demoralization of Society: From Victorian Virtues to Modern Values (New York: Alfred A. Knopf, 1995), p. 10.
- Textos selecionados de Gilbert K. Chesterton, What’s Wrong with the World (New York: Dodd, Mead and Co., 1910). As traduções utilizadas neste artigo foram extraídas de: O que há de errado com o mundo?, Ecclesiae, 2013, 1ª ed. Trad. de Luíza Monteiro de Castro Silva Dutra.
- Ibid., p. 253.
- Ibid., p. 254.
- Ibid., p. 253.
- Chesterton, Orthodoxy, p. 59. Tradução de Roberto Mallet: http://www.grupotempo.com.br/tex_fadas.html
Deixe suas dúvidas e opiniões aqui embaixo! Obrigado por compartilhar nosso conteúdo!
Receba em seu email nosso ebook “As 5 Etapas para Alfabetizar seus Filhos em Casa”, um guia completo e totalmente gratuito para introduzir seus filhos no universo da Alfabetização. Clique aqui: https://goo.gl/FDS4xU.